As escolas de samba e o encantamento do espaço público
Conteúdo produzido em parceria ISER / NEXO JORNAL. Publicado originalmente no Nexo Políticas Públicas em 13 fev 2025.
Foto: Lucas Bártolo
Por Lucas Bártolo
- 13 fev 2025
- 7 min de leitura

Neste carnaval de 2025, quem assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro notará que, entre as doze agremiações do Grupo Especial, pelo menos oito abordarão o imaginário religioso de matriz afro-indígena. Os temas vão desde a história do Candomblé Ketu, narrada pela Unidos de Padre Miguel a partir do Ilê Axé Iya Nassô, fundado em Salvador há 200 anos, até o legado dos povos bantus na formação histórica e cultural do Rio de Janeiro, tema da Estação Primeira de Mangueira. A atual campeã, Unidos do Viradouro, inspira-se na trajetória de Malunguinho, reverenciado como líder quilombola e entidade da Jurema. Já a Grande Rio mergulhará no universo dos encantados da Amazônia Paraense, enquanto o Salgueiro apresentará rituais de proteção e fechamento de corpo das tradições afro-brasileiras.
Haverá também enredos dedicados à mitologia dos orixás, como os da Imperatriz Leopoldinense e da Unidos da Tijuca, que homenagearão, respectivamente, Oxalá e Logun-Edé. Destaca-se ainda a homenagem da Beija-Flor de Nilópolis ao saudoso sambista Laíla, cuja forte ligação com o Candomblé foi marcante em sua biografia.
Diante desses temas, o carnaval deste ano pode ser considerado o mais “encantado” da história do Grupo Especial, considerando o número recorde de enredos inspirados nas religiosidades afro-indígenas, conforme o levantamento realizado para minha pesquisa de doutorado, em fase de conclusão .
Consolida-se uma tendência identificada a partir de 2016 após décadas de predomínio de enredos com temáticas esvaziadas de sentidos religiosos, voltadas para interesses de patrocinadores governamentais e empresariais. Um movimento que ocorre em meio à transformação do campo político e religioso brasileiro, com o crescimento do segmento cristão pentecostal e o avanço da extrema direita, que alia conservadorismo religioso ao neoliberalismo, resultando em disputas sobre identidade e cultura nacional, incluindo o papel do carnaval no imaginário social e nas políticas públicas (Menezes & Bártolo, 2019; Oosterbaan & Godoy, 2020).
Tendo como pano de fundo essas transformações e a instabilidade política e econômica instaurada no país a partir de 2015, o debate sobre religião e carnaval eclodiu no contexto de uma crise desencadeada principalmente pela ruptura provocada por Marcelo Crivella, liderança do campo pentecostal que retirou o apoio governamental às escolas de samba durante o seu mandato como prefeito do Rio de Janeiro (2017-2020) (Menezes & Reis, 2017; Gomes & Leite, 2019)
Interpreto essa crise como resultado de um processo de “desencantamento” das escolas de samba, tanto pela sua espetacularização quanto pela sua demonização – no sentido que José Jorge de Carvalho (2010) e Cecília Mariz (2019) atribuem, respectivamente, a esses termos. Essa ruptura abriu fissuras na ideologia de conciliação historicamente celebrada nos enredos, o que possibilitou a emergência de novas narrativas sobre a identidade nacional e a imaginação de outros pactos civilizatórios (Bento, 2022).
Nos últimos anos, sem perderem as características sociológicas que expõem as contradições de uma manifestação cultural entremeada pelas redes de poder do Rio de Janeiro – como a influência de banqueiros do jogo do bicho na Liesa (Liga das Escolas de Samba), que organiza e explora comercialmente o carnaval do Grupo Especial –, os desfiles passaram a ser cada vez mais valorizados como ritos de crítica à estrutura social, especialmente à herança colonial e escravocrata. Tornaram-se também importantes instrumentos de luta pelo reconhecimento de minorias étnicas e sociais, reescrevendo essas identidades no imaginário social e visibilizando-as no espaço público.
De modo específico, há um movimento de afirmação de uma identidade étnico-religiosa no mundo das escolas de samba por meio da performance de enredos centrados na religiosidade afro-indígena. Ao materializar esses imaginários em seus desfiles, as escolas de samba reencantam a si mesmas em um processo que denomino “macumbização”. Outrora uma designação genérica e pejorativa, a noção de macumba abrange as religiosidades de matriz afro-indígena, sincretizadas com outras tradições subalternizadas no processo colonial brasileiro. Contrapondo-se ao desencantamento promovido pela espetacularização e pela demonização, as escolas de samba se tornam reconhecidas como entidades de preservação e transmissão de ontologias, epistemologias e cosmologias que confluem nas encruzilhadas que compõem o mundo encantado das macumbas (Simas & Rufino, 2019).
A macumbização do carnaval insere-se também em um contexto de crise global, que inclui o acirramento das desigualdades sociais, a intensificação da crise climática e o avanço de ideologias extremistas. Nesse cenário, militantes e intelectuais recorrem ao conceito de “encanto/encantamento” como contraponto ao desencantamento neoliberal, que aniquila corpos e saberes, ampliando sua noção para além da acepção weberiana.
A filósofa Silvia Federici (Reencantando o Mundo, 2022) é uma das vozes que propõem reanimar o mundo ao valorizar modos de existência marginalizados pelo capitalismo. Mobilizando um léxico similar, o semiólogo Paolo Demuru (Políticas do Encanto, 2024) defende, como “contrafeitiço” às teorias fantasiosas do populismo de extrema direita, a disseminação de narrativas que inspirem o desejo de transformação social por um viés progressista.
Em sintonia com esse debate, as escolas de samba podem ser consideradas agentes do encantamento. Diante da crescente presença pública e midiática da extrema direita, as imagens dos desfiles carnavalescos e as narrativas que elas carregam tornam-se ainda mais relevantes, afirmando, desafiando e negociando novas formas de reconhecimento e representação por meio de performances que visibilizam minorias e grupos subalternizados, seus saberes e visões de mundo. Exemplos disso são os últimos quatro desfiles vencedores do carnaval carioca: Histórias para ninar gente grande (Mangueira, 2019), Viradouro de Alma Lavada (Viradouro, 2020), Fala Majeté: As sete chaves de Exu (Grande Rio, 2022) e Arroboboi, Dangbé (Viradouro, 2023). Um processo que consolida as escolas de samba como entidades produtoras de discursos que encantam o espaço público, onde a religião se destaca como um vetor fundamental do imaginário social em disputa.
BIBLIOGRAFIA
Bento, Cida. (2022). O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras.
Carvalho, José Jorge. (2010). “‘Espetacularização’ e ‘canibalização’ das culturas populares na América Latina”. Anthropológicas, v. 21 n. 1.: 39-76.
Demuru, Paolo. (2024). Políticas do encanto: extrema direita e fantasias da conspiração. São Paulo: Elefante.
Federici, Silvia. (2022). Reencantando o mundo: feminismo e a política dos comuns. São Paulo: Elefante.
Gomes, Edlaine Campos & Leite, Monique Sá Teixeira. (2019). “A religião no poder executivo: controvérsias sobre cultura no mandato de Crivella no Rio de Janeiro”. Religare, vol. 16, nº 1: 85–116.
Mariz, Cecília Loreto. (2019). “Memorial de Cecília Loreto Mariz”. Interseções, vol. 21, nº 2.
Menezes, Renata de Castro & Bártolo, Lucas. (2019). “Quando devoção e carnaval se encontram”. PROA: Revista de Antropologia e Arte, vol. 9, nº 1: 96-121.
Menezes, Renata de Castro & Reis, Lívia. (2017). “Gestão Crivella e a experiência-modelo do projeto da IURD”. Instituto Humanitas Unisinos – IHU, 19 de jun. de 2017.
Oosterbaan, Martijn & Godoy, Adriano Santos. (2020). “Samba Struggles: Carnaval Parades, Race and Religious Nationalism in Brazil”. In: M. Balkenhol et al. (org.). The Secular Sacred. Cham: Springer International Publishing.
Simas, Luiz Antonio & Rufino, Luiz. (2018). Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula.
Como citar
BÁRTOLO, Lucas. "As escolas de samba e o encantamento do espaço público". Religião e Poder, 13 fev. 2025. Disponível em: . Acesso em: .
Conteúdos relacionados

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
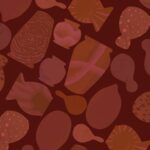
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
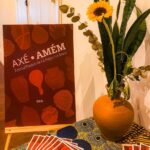
ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso

(In)segurança nas favelas em foco: sobre falácias políticas na relação entre narcotráfico e as religiões
Conteúdos relacionados

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
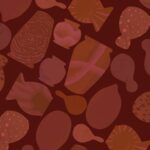
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
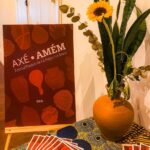
ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso
