(In)segurança nas favelas em foco: sobre falácias políticas na relação entre narcotráfico e as religiões
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Por Carolina Rocha
- 01 dez 2025
- 12 min de leitura

Um ponto de partida importante para a abordagem deste artigo é que não adoto o termo “narcopentecostalismo”. Ele simplifica um fenômeno muito mais complexo, como se fosse apenas a soma de “droga” e “igreja”. O que está em jogo é um projeto político de disputa de territórios, corpos e espiritualidades, que articula o varejo de drogas ilícitas e setores religiosos em torno de uma moralidade que demoniza o axé, a sexualidade negra, a gira, a rua, a própria existência preta historicamente no Brasil.
Narcotráfico ou tráfico de drogas é um mercado ilegal global dedicado ao cultivo, fabricação, distribuição e venda de substâncias proibidas. Nós não temos narcotráfico ou tráfico de drogas nas favelas. O que temos nas favelas, em grande parte das vezes, é o varejo de drogas ilícitas. O varejo é só uma parte, eu diria, a “ponta do iceberg”, de um esquema muito maior desse mercado global.
Os meninos e homens, em sua maioria negros, que estão à frente do varejo de drogas ilícitas nas favelas brasileiras não possuem o capital econômico, simbólico, político e social que envolvem outros participantes desse mercado internacional gigantesco, que envolve o comércio ilegal de armas e drogas. Eu afirmo frequentemente: favela não tem “pé” (árvore) de AK-47, fuzil, pistola e cocaína – estas coisas chegam na favela de alguma forma, por via marítima, aérea ou terrestre.
Ou seja, existem muitos atores envolvidos neste sistema, porque as armas e as drogas ilícitas passam por aeroportos, fronteiras, todos espaços com muita “segurança” e com o poder institucional envolvido na proteção dessas áreas. Ou seja: não é o bandido na favela que controla toda essa cadeia, mesmo os “chefes do tráfico”, não são os únicos responsáveis por fazer esse comércio ilegal girar.
Existe ainda um outro debate: quem é considerado bandido no Brasil?! Jovens negros carregam esse estigma racista. São vistos sempre como potenciais bandidos, sendo que outros protagonistas da venda ilegal de drogas são chamados de “dealer”, “jovem”, “estudante”, dentre outras designações. Portanto, ser bandido no Brasil não está atrelado ao crime que uma pessoa comete, mas sim a quem ela é dentro dessa sociedade, a cor da sua pele, ao território onde vive.
Nas minhas pesquisas etnográficas em favelas cariocas, dificilmente eu vi algum morador ou moradora de favela se referir às pessoas que estão envolvidas no comércio ilegal de drogas ilícitas como “traficantes”. Geralmente são chamados como “os meninos de lá”, “os caras da firma”, os bandidos, “o chefe”, entre outros termos. A palavra “traficante” carrega uma série de significados, estereótipos, pesos históricos. O “traficante” sempre é o outro, o preto, o favelado, o pobre. A própria mídia corporativa, a grande imprensa, escolhe quem aparece nas manchetes com o nome de “traficante” e quem será considerado “apenas” jovem, suspeito, estudante, engenheiro, ou seja, gente, pessoa humana!
As encruzilhadas do pentecostalismo nas favelas
A palavra “neopentecostalismo” também é controversa nas ciências sociais. Hoje, quando observamos a diversidade e pluralidade de igrejas evangélicas nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, temos dezenas de igrejas de difícil enquadramento dentro das denominações cristãs que conhecemos.
Eu gosto do conceito de “cultura pentecostal”, porque pensa as mudanças de linguagem, narrativa, estética, gramática, espiritualidade e poder dentro das favelas, do ponto de vista mais amplo, para além, inclusive, das pessoas que se declararem como pertencentes a uma igreja ou denominação determinada. Vemos isso na política, por exemplo, e também com os profissionais chamados de “coachings”, em que os indivíduos possuem uma gramática religiosa, mas não há qualquer indício de pertencimento, em vários casos, a alguma igreja. Ainda sim existe um jeito de falar, palavras, citações e comportamentos que permitem perceber a aproximação com o Evangelho, com alguns princípios pentecostais, mas sem ter a identificação com uma igreja/um pastor ou pastora em particular.
Minha pesquisa, sobre o que eu chamo de encruzilhada (dada a complexidade) entre varejo de drogas ilícitas, terreiros e igrejas evangélicas, começa depois de viver isso na pele, dentro da minha própria casa de axé. Há um capítulo da minha Tese de Doutorado (UERJ, 2021), que eu nomeio de “Vou colocar meu nome na macumba”, onde conto a minha própria história relacionada ao tema. Colocar o meu nome é expor meu corpo, minha família, meu território. É recusar o silenciamento diante do racismo religioso.
Essa experiência pessoal foi o que me moveu a investigar e escrever. Meu terreiro foi alvo de uma tentativa de proibição de tocar atabaques e ter festas e ficava em favela da Zona Norte do Rio chefiada por um varejista de drogas que se autodenominava “evangélico”. Tínhamos proibições explícitas sobre usar roupas brancas, fios de conta e turbantes. E os cultos aconteciam em praça pública, bailes funks e nos autofalantes pelos becos.
O que vivemos hoje e chamamos de racismo religioso não nasce do nada. É parte de um projeto colonial que sempre tratou as espiritualidades de matriz africana como criminosas e demonizadas. As favelas são territórios não só de disputa armada, política e econômica, mas de significados espirituais. Ali onde os terreiros resistem como lugares de cura, educação e ancestralidade, se acirra uma disputa que tenta apagar tudo o que escapa à lógica cristã. É por isso que digo que minha tese não nasce de gabinete, nasce da encruzilhada da vida. Minha trajetória como mulher de axé numa favela da zona norte não é só o pano de fundo da pesquisa, é o próprio motor que me fez escrever. O que chamo de políticas de existência emerge daí: resistir, negociar, reinventar formas de estar viva em territórios atravessados por múltiplas vulnerabilidades e potências.
As encruzilhadas entre varejo de drogas ilícitas e as igrejas nas favelas
Eu não falo em “tráfico”, mas em varejo de drogas ilícitas, porque isso traduz melhor a dinâmica das favelas. Nesse contexto, alguns homens ligados a esse varejo se alinham a setores evangélicos e passam a atuar, na definição pelas mídias, como “traficantes evangélicos”.
O que está em jogo não é apenas a fé, mas o uso de uma gramática religiosa de guerra espiritual para legitimar a violência: destruir terreiros, proibir oferendas, quebrar imagens, expulsar mães e pais de santo. Essa “limpeza espiritual” é territorial e política.
Ouvi e vi mães e pais de santo que tiveram que desmontar suas casas de madrugada porque alguém armado disse que “Jesus é o dono do morro”. O discurso sustenta-se em símbolos fortes: medo do inferno, promessa de salvação, exorcismo da ancestralidade. O resultado é um poder disciplinador que regula comportamentos, controla corpos, define quem pode ou não permanecer. É a velha criminalização das práticas negras, agora reatualizada por novos protagonistas e argumentos.
Agora é importante racializar o debate. Há uma interlocutora minha que fala: “as pessoas na favela dançam o samba e o funk e não sabem que isso é cultura negra”. Isto traz a questão do apagamento das contribuições negro-africanas ao patrimônio brasileiro e mundial. Ainda temos dificuldades históricas ligadas a implementação das Leis nº 11.645/2008 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”) e nº 10.639/2023 (que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do país). Não contamos a história negra brasileira nas escolas.
Com isso, as pessoas veem o terreiro como apenas “macumba”, que é traduzida em nossa sociedade como o “Mal” por excelência. E muitas vezes escapa a compreensão de que os terreiros, como diz Kabengele Munanga, foi o núcleo duro pelo qual se organizou a resistência negra no Brasil, para além da dimensão espiritual e ritualística em si, o terreiro traz língua, linguagem, literatura, gramática, culinária, medicina, história, filosofia e política de matrizes africanas e também indígenas.
Ainda, quando falamos do “tráfico evangelizado” nas favelas e periferias do país, estamos falando de pessoas negras que estão na encruzilhada entre o varejo de drogas ilícitas, pessoas negras que estão nos terreiros e pessoas negras que estão nas igrejas evangélicas. Qualquer tentativa simplista de reduzir esse fenômeno pode incorrer em graves erros. Por isso, chamar essa violência religiosa de “narcopentencostalismo” é perigoso, porque arriscamos marginalizar pessoas que já são tão alvo de marginalização na sociedade brasileira.
Nessa encruzilhada todas as pessoas negras envolvidas são alvo do racismo e no caso do terreiro, como expressão dessa cultura negra sem as “máscaras brancas” (como diz Frantz Fanon) coloniais, ele é o alvo máximo de violência e marginalização. Ao ponto da favela, que é também um quilombo negro, não ser mais um lugar seguro para o terreiro. Mãe de santo que entrevistei para o meu livro “A culpa é do diabo: o que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso”, me disse: “se o terreiro não pode existir na favela, que é o nosso quilombo preto, vai existir aonde?”. Temos notícias de terreiros fechados em favelas e periferias de Minas, São Paulo, Bahia. O que se difunde é a ideia de que os territórios populares só podem ser governados por uma moral única, baseada no medo do diabo e na negação do axé.
Neste ponto faço uma provocação: a quem interessa que pessoas negras, estejam no varejo, nas igrejas ou nos terreiros, se vejam como inimigas? Essa falsa guerra dentro das favelas esconde um projeto maior: manter o corpo preto sob controle. O que parece uma briga local é, na verdade, parte de um processo histórico de colonização que reedita a separação entre “o bem” e “o mal” para interditar a vida negra.
Como diz Grada Kilomba, o racismo é o crime perfeito: faz negros se auto odiarem e odiarem outros negros e tudo que é considerado negro.
Racismo religioso e suas ramificações
O racismo religioso é um pilar da sociedade brasileira. Desde o período colonial, nossas religiões foram criminalizadas, tratadas de maneira pejorativa como feitiçaria, curandeirismo, magia. Esse legado se atualiza hoje com mães de santo presas, terreiros queimados, lideranças ameaçadas.
No meu livro, registro que “o diabo sempre mora no corpo de um preto, esteja ou não no candomblé”. A pedagogia do medo é a roupagem desse projeto colonial desde seus primórdios e não está apenas em discursos religiosos. A imprensa e o debate de segurança pública defendem que vivemos em uma “guerra às drogas”, só que não existe guerra as drogas, existe extermínio da juventude negra favelada, um genocídio. Ninguém faz guerra às drogas porque o comércio ilegal é lucrativo e continua em pleno vapor. E não temos uma guerra, porque as pessoas moradoras são alvo de múltiplas violências por todas as forças armadas em disputa, então é um massacre!
O corpo preto é transformado em lugar do mal, onde a violência é legitimada e reafirmada a supremacia de uma espiritualidade única. Essa narrativa é mobilizada nos púlpitos, na política institucional, mas escolas, nas redes sociais e até pelo varejo de drogas ilícitas, que se apropria dela para justificar expulsões e ataques.
Perspectivas para ações diante deste quadro
Importa compreender que defender os terreiros não é apenas defender religião. É defender patrimônios negros, espaços de cuidado, de educação, de cozinha, de música, de saúde. O terreiro é lugar de autoestima, de memória, de resistência.
As estratégias passam por quatro frentes:
- Ação política coletiva, temos vários exemplos como as caminhadas pela liberdade religiosa e as articulações da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), as campanhas como “Quem é de axé diz que é”, “Liberte o nosso sagrado”, dentre outras.
- Apoio jurídico e institucional, acionando a Constituição de 1988 e tratados internacionais.
- Produção de memória e visibilidade, denunciando ataques, registrando histórias, ocupando espaços digitais. Isso entra como reparação histórica.
- Fortalecimento comunitário, garantindo que o terreiro siga sendo um espaço de vida em meio à necropolítica.
Gosto sempre de repetir: existir não pode ser um luxo para nós, criamos ferramentas e tecnologias das quais toda a sociedade brasileira se abastece e alimenta. Proteger os terreiros é proteger a cultura, memória, ancestralidade e ciência negra contra um projeto que insiste em nos silenciar.
Outro passo é nomear o que vivemos como racismo religioso, e não simplesmente intolerância religiosa, e como algo sistêmico e coletivo e não como casos isolados. Precisamos desnaturalizar a associação entre negritude, diabo e crime. Isso exige:
- Políticas públicas de igualdade racial, como cotas e ensino da história afro-brasileira, já existentes, mas constantemente atacadas.
- Educação midiática e digital, para enfrentar desinformação e racismo algorítmico.
- Alianças inter-religiosas, que afirmem a pluralidade como um direito.
- E, acima de tudo, centralidade das vozes de axé: mães, pais, filhos de santo, comunidades de terreiro.
Não se trata só de resistir, mas de ressignificar. As encruzilhadas são lugares de invenção. É no cruzo, na gira, no axé que seguimos encontrando saída. Colocar meu nome na macumba foi, para mim, escolher viver. E é essa escolha que continua nos movendo.
Como citar
ROCHA, Carolina. "(In)segurança nas favelas em foco: sobre falácias políticas na relação entre narcotráfico e as religiões". Religião e Poder, 01 dez. 2025. Disponível em: . Acesso em: .
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
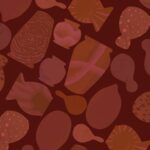
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil

ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
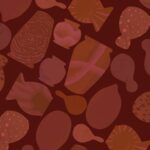
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
