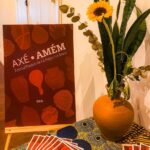Umbanda como fenômeno social
Conteúdo produzido em parceria ISER / NEXO JORNAL. Publicado originalmente no Nexo Políticas Públicas em 22 mai 2025.
Foto: reprodução.
Por Joana Bahia
- 22 maio 2025
- 8 min de leitura

Na distinção dos estudos afro-brasileiros, temos religiosidades marcadas pelos povos da África Ocidental (gbe e yorubá) e aquelas marcadas pelas tradições da África Central (bantu). No primeiro grupo, incluem-se o tambor de mina, o xangô e o candomblé; no segundo, a umbanda, o candomblé de caboclo, a cabula, a macumba e a quimbanda.
Há controvérsias sobre o surgimento da umbanda. Muitos autores seguem a ideia veiculada nos textos de Diana Brown, segundo a qual a religião teria sido criada nas primeiras décadas do século 20, a partir da primeira incorporação, por Zélio de Moraes, do espírito de um índio chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908. Esse espírito teria orientado Zélio a fundar sete tendas com a finalidade de propagar a umbanda.
As obras aqui indicadas baseiam-se em abordagens clássicas e atuais que apresentam uma umbanda plural, expondo novos temas, suas contradições sociais, controvérsias públicas e apontando para sua expansão digital e transnacional.
A morte branca do feiticeiro negro
Renato Ortiz (São Paulo Brasiliense, 1951)
O autor aborda o processo histórico de formação da umbanda no contexto brasileiro, lidando com as categorias de “empretecimento” das práticas kardecistas e “embranquecimento” das práticas afro-brasileiras. Seu texto dialoga com as mesmas tensões e contradições abordadas por Lísias Negrão em seu livro Entre a Cruz e a Encruzilhada (1996), que pesquisou a formação do campo umbandista em São Paulo.
Ambos os autores mostram em que medida a umbanda tem um movimento pendular característico de sua formação social e histórica. Essa ambiguidade se manifesta na constante tensão entre a cruz (símbolo da proximidade com o kardecismo) e a encruzilhada (ética baseada na magia africana).
Os autores evidenciam uma gradação entre os terreiros mais próximos ao kardecismo e aqueles mais afeitos às práticas do candomblé. uns voltados à moralização dos rituais e a um ideal ético-religioso, outros centrados nos despachos, nas demandas e na lógica do enfrentamento espiritual. De um lado, a caridade cristã; de outro, a necessidade da cobrança, da demanda e da vitória sobre os inimigos.
Muitas das questões tratadas por estes autores se reproduzem atualmente nos fóruns, nos recentes congressos de umbanda e nos debates digitais, porém perpassados pelas diferenças intergeracionais e interseccionais, com uma escolarização mais elevada de seus praticantes e com um discurso marcadamente decolonial.
Umbanda e política
Diana Grown ([S.l.]: Marco Zero/Iser, 1985)
O dossiê organizado pela antropóloga Diana Brown analisa os diferentes aspectos das relações entre umbanda e política. São artigos clássicos que apontam questões importantes para aqueles que não conhecem a formação do campo umbandista, abordam a história da umbanda, a busca por legitimação pública por meio das diferentes
federações de umbanda e seus projetos doutrinários. São discutidos aspectos míticos rituais e organizacionais sem perder de vista as trocas com segmentos e instituições da sociedade global, inclusive com o campo político.
Dialogam criticamente com obras como “O nascimento de uma religião”, de Roger Bastide, presente no livro As religiões africanas no Brasil, e Kardecismo e Umbanda, de Cândido Camargo, – referências importantes sobre o tema. O dossiê também tece críticas à presença do catolicismo, protestantismo e judaísmo que disputam a ocupação pública do espaço urbano, evidenciando a produção da intolerância religiosa contra as umbandas.
No mesmo período, outras obras avançam em outras direções, abordando os aspectos sociais dos conflitos e das dinâmicas do terreiro, como em Guerra dos orixás, de Yvonne Maggie. A dissertação O caso da pombagira: reflexões sobre crime, possessão e identidade feminina, defendida em 1983 por Márcia Contins, examina conceitos como ritual, possessão e pessoa a partir da presença da pombagira em um processo judicial, discutindo as sobreposições de femininos em uma religião presente no espaço público urbano. Também nesse contexto, Peter Fry e Gary Howe publicam Duas respostas à aflição: umbanda e pentecostalismo, traçando uma comparação entre essas duas maneiras de interpretar e lidar com as aflições da sociedade brasileira.
Zélio de Moraes e as origens da umbanda no Rio de Janeiro
Emerson Giumbelli. In:Caminhos da alma: memória afro-brasileira. Organização: Vagner Gonçalves da Silva (São Paulo: Summus, 2002)
Giumbelli argumenta que o “mito de origem da umbanda”, ligado a Zélio de Moraes, é uma construção tardia, iniciada em 1975 por meio do movimento federativo. Seu trabalho dialoga com aspectos do texto de Bruno Rohde, Umbanda, uma religião que não nasceu: breves considerações sobre uma tendencia dominante na interpretação do universo umbandista, escrito em 2009. Rohde mostra que “o mito de origem” da chamada “umbanda branca” é um segmento que empresta a sua história para legitimar a formação do campo umbandista como um todo, dirimindo a diversidade de segmentos existentes desde a formação do campo umbandista.
Um bom contraponto a essa perspectiva, que mostra a força de Zélio de Moraes, são os artigos de Artur Isaia: Ordenar progredindo: a obra dos intelectuais de Umbanda no Brasil da primeira metade do século 20
(1999), e Umbanda como projeto de nomeação da realidade brasileira (2015). Em ambos, o autor destaca a importante correlação entre campo intelectual umbandista e projeto republicano.
O Rio de Iemanjá. Um olhar sobre a cidade e a devoção
Joana Bahia (Rio de Janeiro. Editora Telha, 2023)
O livro analisa a ocupação do espaço público da cidade do Rio de Janeiro pelos diferentes segmentos umbandistas, a partir da devoção a Iemanjá. A autora trata das disputas entre católicos e umbandistas no espaço público da cidade do Rio de Janeiro nos anos 1940 e 1950, juntamente com o declínio do catolicismo e o crescimento das umbandas e, consequentemente, da devoção a Iemanjá na cidade e em outros estados. Além das disputas públicas entre segmentos católicos conservadores e os afrorreligiosos, a obra examina a circularidade de líderes afro entre os campos da arte e da política, a construção do culto Omolocô no cotidiano da cidade, e aponta para as reações de Tancredo da Silva Pinto às publicações de Edir Macedo na revista Plenitude, contrárias à crescente devoção popular a Cosme e Damião (eres), São Jorge e Iemanjá no espaço público nos anos 1970 e 1980.
Abordagem na mesma direção é encontrada na tese de doutorado em História Social de Farlen de Jesus Nogueira, intitulada O frei, o bispo e o papa da umbanda Omolocô: A disputa pelo campo religioso entre umbandistas e católicos durante os anos da Campanha Nacional Contra a Heresia Espírita (1939-1968), defendida em 2025. ambém se destacam o livro O sagrado e o profano: vivências negras no Rio de Janeiro, de Nilma Teixeira Accioli (2019), e a dissertação de mestrado em História Social de Caroline Moreira Vieira, Ninguém escapa do feitiço: música popular carioca, afro-religiosidades e o mundo da fonografia, defendida em 2010. Questões abordadas por essas obras também são tratadas no Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos, organizado por Lilia Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes em 2018.
Umbanda fora do terreiro: uma análise sobre a digitalização da religião
Rafaela Mota Meireles do Nascimento. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, 2024
A tese analisa as implicações da presença da umbanda nos meios digitais, por meio da análise de conteúdo de canais sobre a religião no YouTube, bem como da consulta de dados secundários de quatro lideranças religiosas. A autora observa que novas estratégias estão sendo utilizadas pelos adeptos da Umbanda nesse ambiente, com possíveis impactos na religião. Nascimento observa as interações online e offline do campo umbandista, com o objetivo de compreender de que modo a umbanda está se adaptando a esse contexto público digital. Observa-se uma influência da chamada umbanda sagrada, expressa pelos sujeitos da pesquisa, além de novas experiências emergentes no ambiente online, como os rituais litúrgicos transmitidos pela internet, que possibilitam uma nova experiência religiosa, com significados e características próprias.
Dialogando com a tese, destaca-se o artigo Algumas observações em torno da renovação na umbanda urbana contemporânea, de Diana Espírito Santo, publicado em 2015. Ambos os trabalhos apontam para as transformações recentes no campo umbandista com a entrada no mundo digital.
Sobre temas ainda pouco explorados, mas de grande importância, destaca-se o artigo de Morena Freitas, “Comida de criança: doces (e) ibejadas da umbanda”, publicado em 2022 no dossiê Comida e sagrado da revista Religião & Sociedade. A autora analisa os doces oferecidos como comidas de criança, prática fundamental nesse rito da umbanda, mas ainda pouco abordada nos estudos sobre religiões afro-brasileiras. Já o artigo Umbanda e glocalização, de Stephen Engler, publicado em 2012 no Debates do NER, mostra como a variação interna da umbanda reflete apropriações estratégicas de conceitos e modelos nacionais e transnacionais.
Como citar
BAHIA, Joana. "Umbanda como fenômeno social". Religião e Poder, 22 mai. 2025. Disponível em: . Acesso em: .
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
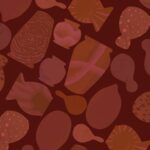
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
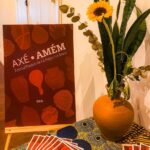
ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
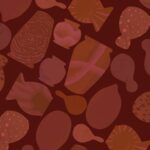
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil