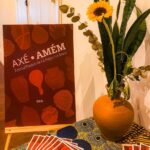Habemus Papam! Sobre como se constitui o governo do Vaticano
Foto: Vatican News – Reprodução: Internet
Por Matheus Cavalcanti Pestana
- 08 maio 2025
- 21 min de leitura

O Vaticano tem uma forma de governo única no mundo: uma monarquia absolutista eleita. Diferente das monarquias tradicionais, em que o poder é transmitido por hereditariedade, no Vaticano o chefe de Estado, o Papa, é escolhido por meio de um processo eleitoral restrito conduzido pelo Colégio de Cardeais, em um conclave secreto.
Esse arranjo político combina elementos de teocracia (na qual o governo é exercido por uma autoridade religiosa), de processo eleitoral oligárquico (dado que a votação é feita por um grupo reduzido de eleitores) e de monarquia absolutista (considerando que o poder é concentrado em um só governante vitalício).
Apesar de pequena extensão territorial, com 0,44 km², e população em torno de 800 habitantes, o Vaticano é um Estado soberano com reconhecimento internacional, fronteiras definidas dentro da cidade de Roma e com governo próprio. A sua natureza dupla – simultaneamente centro espiritual da Igreja Católica e país independente – torna o seu sistema político um objeto de interesse tanto de estudiosos da ciência política quanto da religião, considerando a sua situação singular no mundo.
O sistema político
Para entender o sistema político do Vaticano, é crucial diferenciá-lo da Santa Sé. O Estado da Cidade do Vaticano, criado em 1929 pelo Tratado de Latrão, é o território onde se localiza a cúpula governamental da Igreja Católica. Desde o século VII até a unificação do Reino da Itália, em 1870, existiam os denominados Estados Papais, que eram dominados pelo Sumo Pontífice e ocupavam uma boa parte do que hoje é a Itália.
Em 1870, com a unificação, esses territórios foram conquistados, pondo fim a esse ente, e gerou uma situação descrita por Pio IX como “Prisioneiro no Vaticano”: o Papa estava em um território sobre o qual não exercia mais poder algum, e por conta da ocupação, os pontífices se recusaram a sair do Vaticano, ir até à Praça São Pedro e até mesmo dar a benção do “urbi et orbe” da sacada da Basílica. Em 1929, o primeiro-ministro da Itália Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão que fundamenta o atual Estado do Vaticano.
Já a Santa Sé é a entidade institucional que governa a Igreja Católica mundialmente: ela tem personalidade jurídica internacional própria e é quem mantém as relações diplomáticas em nome da igreja e do Vaticano. Em outras palavras, a Santa Sé refere-se ao governo central da Igreja Católica (o papado e a Cúria Romana) e o Vaticano é o Estado que serve de sede territorial a esse governo.
Apesar da finalidade religiosa, o Vaticano atende aos critérios de um Estado moderno: controle de território, população permanente, governo independente e reconhecimento de outros países.
A estrutura política é centralizada no Papa, que concentra os poderes executivo, legislativo e judiciário, sendo a autoridade suprema em qualquer decisão estatal. Abaixo dele, existe a Cúria Romana, que atua como um conjunto de departamentos administrativos e tribunais que auxiliam na governança da Igreja e do próprio Estado (dicastérios). O principal deles é a Secretaria de Estado, que funciona como um “ministério do interior e das relações exteriores”, coordenando tanto a diplomacia quanto os outros dicastérios, que são os ministérios da Cúria.
Existem ainda os Dicastérios Para a Doutrina da Fé, Para a Causa dos Santos, Para a Comunicação, Para a Cultura e Educação, entre outros, como um verdadeiro corpo ministerial. Além da Cúria e seus Dicastérios, há também o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, que é responsável pela administração civil do território, ou seja, serviços como segurança, correio, museus e infraestrutura.
Um outro órgão fundamental do Vaticano é o Colégio dos Cardeais, composto por estes líderes da Igreja Católica nomeados pelo Papa e que, coletivamente, atuam como conselheiros imediatos dele em questões importantes. Para além disso, os cardeais têm a prerrogativa de eleger um novo Papa quando o cargo fica vago.
Durante a Sede Vacante, em português, vacância da Sé (isto é, no período sem Papa), alguns poderes limitados são exercidos pelo Camerlengo (um dos Cardeais do Colégio dos Cardeais) e pelo próprio Colégio coletivamente, mas, essencialmente, toda a estrutura converge para o pontífice reinante. O Camerlengo assume interinamente como Papa até a eleição do novo Bispo de Roma, como também é chamado o Sumo Pontífice.
Em resumo, o Vaticano é uma monarquia absolutista eletiva de caráter teocrático, na qual a Santa Sé, liderada pelo Papa, detém a soberania, tanto sobre a Igreja quanto pelo Estado da Cidade do Vaticano. Nela há uma burocracia eclesiástica que entrelaça questões espirituais e políticas.
Como chefe da Igreja e chefe de Estado, o Papa concentra um poder simbólico e efetivo único. Ele é, ao mesmo tempo, uma figura religiosa e um ator político internacional, que recebe e visita chefes de Estado e influencia debates globais em temas como direitos humanos, pobreza, meio ambiente e paz. Nenhuma decisão do Papa está sujeita a veto institucional interno.
Por exemplo, não existe um parlamento que contrabalance as decisões do Pontífice no Vaticano. Entretanto, o governo é realizado pela tradição e pelo aconselhamento: Papas costumam ouvir o Sínodo dos Bispos, consultam cardeais em consistório (assembleia destes líderes) e apoiam-se na Cúria Romana para a execução de suas políticas.
Vale ressaltar também que o pontificado não tem um mandato fixo: o Papa permanece no cargo até sua morte ou renúncia voluntária. Historicamente, renúncias papais foram raras, como o caso recente de Bento XVI, em 2013. A norma é que o Papa governe até falecer, momento em que todos os seus encargos e nomeações na Cúria cessam e inicia-se o novo processo de eleger o sucessor.
Desta forma, o Papa tem um poder vitalício, e sua influência na nomeação de cardeais e bispos pode alterar o perfil institucional da Igreja Católica para além do seu próprio pontificado. Isto porque são os cardeais nomeados por um Papa que elegem o próximo Bispo de Roma.
O conclave e a Ciência Política
A eleição de um novo Papa ocorre por meio de um rito secular conhecido como conclave, termo que literalmente significa cum clave, “com chave”, aludindo ao isolamento dos eleitores num recinto trancado durante o processo. O conclave é convocado assim que se estabelece a Sé Vacante, seja pela morte do Papa ou por renúncia.
De acordo com as normas atuais, há um intervalo de 15 dias (prorrogáveis até no máximo 20) desde o início da vacância até o início do conclave, para permitir o luto e a chegada de todos os cardeais eleitores em Roma. Esse prazo pode ser reduzido se todos os cardeais eleitores já estiverem presentes, conforme estabelecido pelo Papa Bento XVI, em 2013.
Quem vota? Somente os cardeais com menos de 80 anos de idade no dia em que a vacância se inicia têm direito ao voto no conclave. Essa restrição de idade, estabelecida pelo Papa Paulo VI, em 1970, busca garantir que os eleitores estejam suficientemente ativos e atualizados com as necessidades da Igreja Católica.
O Colégio de Cardeais atualmente consiste em 252 cardeais, com 135 eleitores e 117 não eleitores, conforme informações do Vaticano. Os não eleitores podem estar presentes em Roma para reuniões preparatórias, mas não entram na Capela Sistina, local da votação, para participarem do pleito.
Não há também nenhuma exigência de que o eleito seja membro do Colégio Cardinalício, já que qualquer homem católico batizado e apto a ser ordenado bispo pode ser escolhido Papa Porém, na prática, desde 1378, todos os pontífices eleitos eram cardeais em funções ativas, dada a lógica de escolher alguém já experiente na liderança eclesiástica.
Onde e como se vota? O conclave se realiza na Capela Sistina, como já referido, no Palácio Apostólico no Vaticano, sob sigilo. No dia marcado, os cardeais eleitores participam de uma missa especial denominada Pro Eligendo Pontifice e depois ingressam em procissão na Capela, entoando o cântico Veni Creator Spiritus, conforme a tradição religiosa, em busca de inspiração divina do Espírito Santo para a escolha. Após o juramento de manter sigilo absoluto sobre o que se relaciona à eleição, inclusive sob pena de excomunhão automática em caso de violação, todas as pessoas não autorizadas deixam a capela ao comando de Extra Omnes (fora todos). A partir daí, os cardeais ficam completamente isolados do mundo exterior: nenhuma comunicação é permitida. Eles ficam alojados na Casa Santa Marta, uma residência dentro do Vaticano, mas deslocam-se apenas até a Capela Sistina para as sessões de votação enquanto o conclave durar.
A votação segue um rito tradicional de escrutínio secreto em cédulas de papel. Em cada rodada, os cardeais escrevem o nome do escolhido e depositam a cédula dobrada em uma urna sobre o altar. São realizadas até quatro votações por dia, sendo duas pela manhã e duas à tarde, após as quais se procede à queima das cédulas.
O resultado de cada votação é sinalizado ao público por meio de uma fumaça que sai da chaminé instalada na Capela Sistina. Se a fumaça é preta, nenhum candidato atingiu a maioria necessária e o processo continua. Se a fumaça é branca, a eleição se consumou e um novo Papa foi escolhido. Esta tradição da fumaça, combinada com o recente costume de badalar dos sinos da Basílica de São Pedro, é o mecanismo pelo qual o mundo sabe em tempo real se habemus Papam (“temos um Papa”).
A maioria necessária para os votos é de ⅔, desde 1179. Isso se manteve inalterado ao longo dos séculos e permanece em vigor. Dessa forma, para ser eleito Papa, um cardeal precisa de 66,7% dos votos dos cardeais presentes. Por exemplo, no atual conclave, com 120 cardeais eleitores, são necessários pelo menos 80 votos para eleger um Papa. Com os atuais 133 eleitores, são necessários 89 votos. Essa supermaioria qualificada busca assegurar que o novo Pontífice tenha apoio amplamente majoritário, refletindo uma unidade interna. Caso nenhuma pessoa alcance os ⅔, as votações repetem-se sucessivamente até que isso seja alcançado.
A política dos conclaves na história
Historicamente, alguns conclaves se arrastaram por muitas sessões devido à dificuldade de se formar o consenso. Entre 1268 e 1271, o conclave durou três anos e elegeu o Papa Gregório X. Logo em seguida, Gregório X instituiu a constituição apostólica Ubi periculum, que criava algumas das regras do conclave que vemos até hoje. Dentre elas, o isolamento externo, e era previsto até mesmo o racionamento de comida e água para acelerar o processo decisório. Tal racionamento não existe mais nos regulamentos atuais, mas existe um mecanismo criado pelo Papa João Paulo II na constituição Universi Dominici Gregis, de 1996, que foi modificada também pelo Papa Bento XVI: se após 33 ou 34 escrutínios ninguém atingir os ⅔, passasse a uma fase final, uma espécie de segundo turno, em que os dois mais votados no escrutínio anterior tornam-se os únicos elegíveis, e perdem direito ao voto.
João Paulo II havia alterado a norma para que, após as 33 ou 34 votações, a maioria fosse alterada para maioria simples. Contudo, isso causa um problema do ponto de vista de teoria dos jogos: isso incentiva que grupos majoritários que não tivessem os ⅔ dos votos não cedessem terreno e simplesmente aguentassem até a rodada decisiva para se impor, quando bastaria apenas 50% + 1 para ter um eleito sem esforço de compromisso. Ou seja, o dispositivo, criado para abreviar conclaves, em realidade poderia prolongá-los até 34 votações, caso um grupo de mais de 50% dos cardeais estivesse determinado a eleger seu preferido ignorando a oposição minoritária. Estima-se que em apenas cerca de dez dias, com quatro votações diárias, esse grupo chegaria à 35ª votação e prevaleceria.
Na prática, essa regra nunca foi aplicada. O único conclave realizado sob a vigência dela foi o de 2005, que elegeu o Cardeal Ratzinger, Bento XVI. Nesse conclave, Bento XVI obteve os ⅔ na quarta votação, e logo em seguida alterou essa regra, retornando à proporção original de ⅔, mesmo após 34 escrutínios, mantendo a ideia de apenas dois candidatos. Ainda assim, 34% dos eleitores podem gerar o impasse e recusar indefinidamente a eleição de qualquer candidato que não agrade. Anteriormente, ainda era possível a eleição por aclamação (quando os cardeais entoam, de forma unânime, o nome escolhido) e por compromisso, no qual um comitê interno toma a decisão pelos outros.
Do ponto de vista da Ciência Política, podemos entender o conclave como um sistema eleitoral de supermaioria com votação repetitiva até obtenção de consenso de ⅔. Diferente dos países que adotam a maioria simples, ou seja, pelo menos 50% + 1 dos votos, a supermaioria tem implicações no comportamento dos eleitores e no resultado final. Isso faz com que o eleito goze de amplo apoio coletivo, o que minimiza divisões internas graves. Isso foi considerado pois, historicamente, se um Papa fosse eleito por uma margem estreita contra uma forte oposição, a ala derrotada poderia questionar a sua legitimidade e até gerar cisões, o que é mitigado pela maioria de ⅔.
Sociologicamente, o efeito é promover o consenso e candidaturas de compromisso, já que dificilmente um nome polarizador conseguiria agregar tantos votos. Há a frase em italiano que diz “chi entra in conclave papa, ne esce cardinale” – quem entra no conclave como “Papa” (no sentido de favorito), sai como cardeal (derrotado) – indicando que chegar com um grupo muito entusiasmado de apoiadores não basta, sendo preciso ser aceitável para a maioria ampla.
A negociação é intensa, dado que não há uma lista formal de candidatos pré-definidos nem candidaturas oficiais, já que qualquer eleitor pode votar naqueles que são elegíveis. Contudo, à medida que as votações avançam, perfis de candidatos viáveis começam a emergir e outros vão perdendo apoio, configurando um segundo turno tácito mesmo antes da eventual rodada final formal. Ou seja, se inicialmente diversos cardeais recebem votos, após algumas votações, esse número tende a convergir para dois ou três nomes principais, dado que as coalizões informais vão se criando, levando à concentração de votos em candidatos viáveis, os papabili ou papáveis.
Nesse sentido, a dinâmica lembra a de um run-off eleitoral, porém ocorrendo de maneira interativa e não declarada abertamente. Nos intervalos, os cardeais conversam e se alinham, não havendo qualquer campanha pública nem promessas explícitas. Contudo, existem alianças silenciosas e acordos tácitos. Por exemplo, grupos de cardeais com visões próximas costumam discutir quem entre eles teria mais condições de angariar os ⅔ e poderiam decidir unir forças em torno de um nome comum. A questão originária também pode ser um ponto comum: é possível que candidatos de um mesmo país ou continente se unam.
Isso faz com que haja uma tendência de escolha de nomes moderados. Em 1978, os cardeais Giovanni Benelli e Giuseppe Siri eram os favoritos de grupos distintos, mas nenhum cedeu espaço ao outro. Este impasse levou o conclave a escolher um terceiro nome de consenso, mais moderado, que era o cardeal Albino Luciani, o Papa João Paulo I, que sequer estava no centro das disputas. Com um papado breve, no segundo conclave de 1978, novamente dois italianos eram cotados, mas os cardeais optaram por um candidato de fora da itália, Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, para reconciliar as tendências, rompendo com 455 anos de papas italianos. Já em 2013, o mesmo aconteceu: os mais citados pela imprensa não foram eleitos, mas sim Jorge Bergoglio, que emergiu como ponte entre diversos grupos.
A maioria de ⅔ também imprime ao conclave uma natureza colegiada, que obriga os eleitores a deliberar, e não simplesmente votarem, diferente de um pleito popular no qual eleitores independentes escolhem apenas uma vez, garantindo uma decisão consensual. Em contrapartida, como já visto, o método sacrifica a rapidez da escolha. Ainda assim, na prática contemporânea, os conclaves têm sido relativamente breves, indicando que os cardeais têm conseguido atingir o consenso e resolver a urgência de dar uma nova liderança à Igreja.
Algumas curiosidades também abarcam os conclaves. Em contraste com o conclave de 1268, já citado como o mais longo da história, os últimos conclaves foram finalizados em, no máximo, cinco dias, com muitos tendo a duração de dois ou três dias apenas.
O conclave de 1939, que elegeu Pio XII à véspera da Segunda Guerra Mundial, foi um dos mais rápidos, com apenas dois dias (três votações). Como também citado, em 1978 houve dois conclaves, dado que o Papa João Paulo I teve apenas 33 dias de papado, e João Paulo II, o primeiro papa não italiano em 455 anos, foi eleito em seguida.
Em 2013, foi eleito o primeiro pontífice das Américas e do hemisfério sul, bem como o primeiro membro da ordem dos jesuítas a ascender ao trono de São Pedro. Isso mostra o perfil de crescente internacionalização da Igreja Católica e também a abertura do Colégio de Cardeais a perfis antes improváveis.
Outra curiosidade nas normas do conclave é a reforma criada por Pio X, em 1904. Antes disso, havia o chamado jus exclusivae, um veto laico que algumas potências católicas podiam reivindicar. Até 1903, impérios católicos como a Áustria, a França e a Espanha podiam comunicar um veto a certos candidatos, impedindo que se tornassem Papa. Em 1903, no conclave que elegeu Pio X, o imperador austro-húngaro Francisco José I tentou barrar a eleição do cardeal Rampolla, comunicando o veto por meio de cardeais aliados. O conclave acatou o veto e elegeu Pio X, que proibiu dali em diante que se reconhecesse qualquer veto externo.
O sistema político do conclave em relação a outros sistemas de governo
Um sistema político singular – uma monarquia teocrática no qual o monarca é escolhido por um colégio restrito de eleitores cardeais – têm poucos paralelos diretos no mundo contemporâneo, mas guarda semelhanças com outras formas de governo oligárquico e/ou teocrático. Em termos de monarquias eletivas, há alguns paralelos, como o Sacro Império Romano-Germânico, cujos imperadores eram eleitos por um colégio de príncipes-eleitores.
Outro caso notório foi o da República de Veneza, cujo chefe de Estado, chamado Doge, era escolhido por um complexo processo de votações e sorteios entre nobres venezianos. Entretanto, nenhuma dessas monarquias eletivas antigas sobreviveram até o presente; praticamente todas as monarquias atuais são hereditárias. A exceção notável é justamente o papado, considerado como a última monarquia absolutista do Ocidente. Outra monarquia eletiva moderna existe na Malásia, onde os sultões regionais elegem entre si o rei federal a cada cinco anos, numa espécie de rodízio. Contudo, esse rei malaio tem poderes limitados e não vitalícios. No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos também adotam um modelo eletivo oligárquico: o presidente é escolhido pelos emirados que compõem a federação, embora, na prática, o governante de Abu Dhabi detenha o cargo continuamente por consenso.
No espectro das teocracias, a comparação frequentemente lembrada é a do Irã pós-1979, onde o líder supremo, o Aiatolá, é uma autoridade tanto religiosa quanto política máxima, escolhida por um conselho de cerca de 88 clérigos islâmicos. Assim como o Papa, o Líder Supremo iraniano exerce um mandato vitalício, em princípio, e concentra um enorme poder, sendo guardião da ideologia oficial. A diferença é que os membros da Assembleia que elegeu o Aiatolá são eleitos pelo povo. Além disso, a mesma assembleia poderia destituir um Líder supremo.
Em outras comunidades religiosas, existem também procedimentos eletivos para altos cargos. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa elege seu Patriarca por meio de um sínodo de bispos, e a Igreja Copta, do Egito, escolhe seu Papa por um colégio de clérigos seguido por um sorteio final, no qual uma criança sorteia um nome entre os mais votados. Essas eleições, porém, não configuram um governo estatal, apenas a liderança interna de uma comunidade religiosa.
Em comparação com as democracias modernas, o sistema do Vaticano se situa em outro espectro: não há participação popular ou representatividade ampla. Trata-se deliberadamente de uma eleição oligárquica, e fundamentada numa concepção ideológica de autoridade, que é a sucessão apostólica e a confiança na inspiração divina.
A Igreja Católica e a sucessão apostólica
A sucessão apostólica é um princípio fundamental da eclesiologia católica (e também presente nas tradições ortodoxa e anglicana), segundo o qual a autoridade espiritual conferida por Jesus Cristo aos apóstolos foi transmitida de geração em geração por meio da ordenação de bispos. De acordo com essa doutrina, os apóstolos receberam de Cristo a missão de pregar o Evangelho, governar a Igreja e administrar os sacramentos.
Ao designarem sucessores – por meio da imposição das mãos e da oração – essa autoridade foi perpetuada historicamente por meio do episcopado. No caso do Papa, essa sucessão assume um caráter singular: ele é considerado o sucessor direto de São Pedro. Assim, cada pontífice é visto não apenas como chefe da Igreja em seu tempo, mas como parte de uma cadeia espiritual e institucional que remonta ao próprio Cristo.
Teologicamente, a sucessão apostólica garante a legitimidade da missão da Igreja, a validade dos sacramentos e a fidelidade à doutrina original. Politicamente, ela justifica a autoridade contínua dos bispos e do Papa como herdeiros legítimos de um mandato divino, sustentando a estrutura hierárquica da Igreja.
Importante notar também que, embora oligárquico, o colégio de eleitores não é autorreprodutível, já que quem escolhe os cardeais eleitores é o Papa anterior. Essa singularidade faz com que o líder nomeie seus futuros eleitores, algo raro em sistemas políticos (seria como um presidente escolher quem serão os votantes na eleição seguinte). Isso dá ao papado uma capacidade de influenciar indiretamente sua sucessão, moldando o perfil do Colégio. Porém, nem sempre esse controle é efetivo, dado que diversos cardeais nomeados por um Papa, por vezes, elegem alguém de linha bem distinta.
A eleição do Papa e o sistema político do Vaticano representam um caso singular que integra elementos políticos, religiosos, organizacionais e simbólicos em uma estrutura de governo única no mundo contemporâneo. Como monarquia teocrática eletiva e vitalícia, o Vaticano combina estabilidade institucional com capacidade de adaptação, mantendo tradições milenares enquanto ajusta regras e práticas às exigências da modernidade. O conclave, com sua exigência de supermaioria e segredo absoluto, traduz a busca por consenso em uma comunidade de fé global e hierárquica.
Esse modelo, sem paralelos exatos entre os sistemas de governo atualmente existentes, mostra como poder espiritual e a política podem coexistir. Estudar o conclave e o papado é avaliar como instituições pré-modernas continuam, de certa forma, relevantes, oferecendo uma perspectiva rica para análises interdisciplinares sobre autoridade, legitimidade e governança no mundo atual.
Como citar
PESTANA, Matheus Cavalcanti. "Habemus Papam! Sobre como se constitui o governo do Vaticano". Religião e Poder, 08 mai. 2025. Disponível em: . Acesso em: .
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
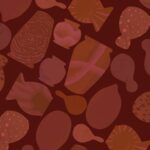
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
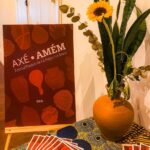
ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
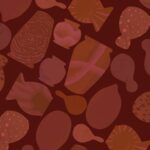
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil