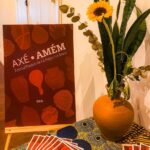Da ECO 92 à COP30: direitos territoriais e mudanças climáticas
Conteúdo produzido em parceria ISER / NEXO JORNAL. Publicado originalmente no Nexo Políticas Públicas em 18 Nov 2025.
Créditos da Imagem: Belém (PA), 17/11/2025 – Marcha Global dos Povos Indígenas. Foto: Bruno Peres / Agência Brasil
Por Aurélio Vianna
- 17 nov 2025
- 15 min de leitura

Esta linha do tempo elaborada a partir de diálogo sobre o tema com a equipe do ISER, realizado em setembro de 2025, enfatiza o processo que levou direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais a influenciarem a agenda de enfrentamento das mudanças climáticas e de defesa das florestas. Ou, a partir de outro ponto de vista, analisar como as mudanças climáticas e a defesa das florestas se tornaram a principal agenda ambiental no que se refere aos direitos de povos e comunidades tradicionais, incluindo-se o financiamento de políticas e projetos. Em todo esse contexto, a dinâmica política brasileira tem sido decisiva para a articulação dessas duas agendas também na arena global.
Destaca-se nesta reconstituição histórica que a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a ECO 92 ou Rio 92, é tomada como um paradigma para que as transformações observadas desde os anos 1980 ganhassem a agenda internacional.
Pré-Rio 92, anos 1980 e meados de 90: avanço de direitos, conferências da ONU e transição da ditadura militar para a democracia
É importante observar o que ocorreu no período anterior à Conferência Rio 92 pela ótica dos direitos territoriais de povos indígenas e dos outros povos da floresta, como eram chamados à época, ou “dos povos e comunidades tradicionais”, como são referidos hoje. Vale ressaltar que aquele contexto é marcado pelo avanço de direitos, tanto no Brasil como em outros países latino-americanos, quando se localiza o ciclo das conferências sociais da ONU, que culminou na Rio 92.
Aqui se destaca o período entre os anos 80 e início dos 90. É momento da afirmação dos chamados novos movimentos sociais, como os Movimentos dos Sem Terra, indígena, das quebradeiras de coco, quilombola, caiçara, quando se manifesta a afirmação da diversidade em relação a direitos. No período imediatamente anterior, não havia toda essa diversidade nem esta pluralidade de organizações e de demandas. Neste contexto há dois eventos determinantes para o desenvolvimento das pautas por direitos territoriais e ambientais no Brasil: a promulgação da Constituição Cidadã e o ativismo de Chico Mendes seguido do seu trágico assassinato
1988 – Promulgação da Constituição Cidadã
A nova Constituição do Brasil, pós-ditadura militar, realça e consolida o aparato jurídico legal que faz uma ponte entre direitos dos povos indígenas e quilombolas e as questões ambientais. Os direitos territoriais indígenas, já eram uma pauta com muita gente mobilizada em torno dela. Se não fossem reconhecidos estariam sendo atropelados pela realidade dos indígenas que tinham controle de vastas áreas territoriais, de floresta. Para os grupos voltados para a discussão do meio ambiente, importava a questão das territorialidades, a manutenção da floresta. Em relação aos quilombos, isso não era evidente. Emergiu na Assembleia Constituinte então a questão dos direitos territoriais de quilombos, com foco não tanto nas florestas mas em outros biomas, frequentemente considerados menos importantes para essa discussão nas universidades, por exemplo. Pode-se considerar uma vitória aparecerem os direitos quilombolas na nova Constituição, porém não foram criadas institucionalidades para fazer com que essas políticas pró quilombolas, de demarcação e de titulação, fossem executadas de forma mais consistente. Por exemplo, quando se trata de povos indígenas, existe uma Fundação Nacional do Índio (FUNAI), uma agência do Estado que trata disso, mesmo antes da existência de um Ministério dos Povos Indígenas. Já em relação aos povos de quilombos não existe um órgão responsável. Outro ponto crítico é que o artigo que garante os direitos territoriais quilombolas utiliza o termo “remanescentes de quilombos”, que tem caráter ambíguo e voltado ao passado.
Pós-Constituição: novas categorias de acesso a território
Apesar de o primeiro governo eleito democraticamente pós-ditadura militar, o de Collor de Mello, que não priorizou as pautas ambientais, pela primeira vez foram criados no Brasil os Projetos de Assentamento Extrativistas e, posteriormente, as Reservas Extrativistas (RESEX). Estas categorias combinam o direito territorial (uso coletivo) com o direito ambiental (preservação da floresta). No entanto, a distinção da legislação em relação aos territórios quilombolas colocava dificuldades para estes povos pois exigia o pagamento de indenizações a preço de mercado pelas terras, dificultando a execução da política, diferente das terras indígenas (desapropriadas sem pagamento).
O ativismo de Chico Mendes e o seu trágico assassinato
O líder dos trabalhadores extrativistas, o seringueiro acreano Chico Mendes, tornou-se personagem importante neste debate, pois ele pauta a relação entre povos e comunidades tradicionais e a proteção da floresta não em oposição, mas em consonância. Os territórios indígenas já eram reconhecidos parcialmente pela contribuição que davam à proteção das florestas. Porém, Chico Mendes coloca o tema dos direitos territoriais a partir da agenda ambiental. O desenvolvimento do trabalho de Chico Mendes na defesa dos direitos dos seringueiros provocou a criação, na política de reforma agrária, de uma categoria de reconhecimento da terra, do território, como uso coletivo e não com parcelamento de lotes. Nesse sentido, a proposta combinava o direito territorial ao ambiental, com a preservação da floresta. Com isso Chico Mendes alcançou que na política ambiental se criasse a categoria de unidade de conservação que não só permitisse a presença de pessoas, como atendesse a demanda dessas pessoas, pelas comunidades tradicionais. Foi a partir dessa articulação dos extrativistas que se cria a nova categoria de acesso a território: primeiro os projetos de assentamento extrativistas, depois as reservas extrativistas.
O trágico assassinato de Chico Mendes, em 1988, ano da promulgação da Constituição Cidadã, com repercussão internacional, evidenciou a urgência de ações para a preservação da Amazônia e contra os crimes promovidos por latifundiários na região.
1992 – Realização da Conferência Rio 92
A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, tornando-se conhecida como Rio 92. Ela ocorreu em um ambiente institucional de avanço da democracia no Brasil e de direitos e consolidou a identidade das organizações não governamentais (ONGs) e a atuação de vários movimentos sociais. Foram assinadas três convenções importantíssimas: a Convenção do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção da Desertificação.Outro resultado da Rio 92 foi a criação, em 1994, do Programa Piloto de Florestas Tropicais (PPG7), desdobramento de uma articulação internacional para financiar a agenda de proteção das florestas tropicais no Brasil. Foi um instrumento financeiro multilateral para o desenvolvimento da demarcação de terras indígenas e da criação de reservas extrativistas no país. O PPG7 Representa um avanço importante, alinhado à proteção da biodiversidade, mas não incluía componentes para quilombos. Neste contexto foi criado o Grupo de Trabalho Amazônico, que congregava desde os os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais ao movimento indígena e ONGs socioambientais e ambientalistas, financiado pelo PPG7. Isto significa um reconhecimento internacional de criação de instrumentos, de mecanismos financeiros que apoiam ações desenvolvidas no Brasil, o que se torna exemplo para vários outros países.
Segunda metade dos anos 1990 a 2006: Continuação do ciclo de avanço de direitos
O avanço de direitos seguiu em curso no Brasil ao longo dos anos 1990, apesar das mudanças de governo – dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso para Lula. É o período das Conferências das Partes (COPs) das Organização das Nações Unidas (ONU). As COPs foram estabelecidas durante a Rio 92, para reunir os países signatários (partes) da ONU para debates permanentes sobre o meio ambiente e avaliação do progresso na implementação de tratados em torno dos diversos temas abordados. A primeira COP sobre Mudança do Clima ocorreu em 1995, em Berlim (Alemanha). Desde então, as conferências têm sido realizadas anualmente, reunindo representantes de governos, ONGs, cientistas e outros grupos voltados aos temas.
Pode ser considerado um “tempo de virada”, quando se finaliza o ciclo do PPG7, relacionado à proteção da biodiversidade como o meio de se reconhecer os direitos territoriais. Nas COPs cresceu o debate sobre o uso da terra e sobre as medidas para que fazer com que ele seja bem realizado para proteção dos territórios e florestas. No Brasil, o uso da terra tem relação com os modos de produção e derrubada de florestas. As primeiras medidas se configuram muito mais em formas de reflorestamento com bom uso da terra, porém sem consideração de como manter a floresta em pé. As COPs vão avançar nisto.
Início dos anos 2000: Proposição e consideração do mecanismo REDD nas COPs
O Brasil, através de organizações como o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), propôs a criação de um mecanismo financeiro para apoiar a manutenção da floresta em pé, denominado Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD). A proposta foi apresentada pelo IPAM e instituições parceiras durante a COP9, em Milão, no ano de 2003. Com a consideração do REDD, a relação entre a garantia da floresta e os direitos territoriais como forma de garantir a floresta em pé passou a ser valorizada e incluída na agenda.
Meados dos Anos 2000 – Criação do Fundo Amazônia e fim do PPG7
Marca o fim do ciclo PPG7 (com foco na biodiversidade) e o início de um novo, com a criação do Fundo Amazônia, um tempo em que as COPs ganham importância para a garantia dos direitos territoriais. Houve mudança para uma outra política, uma outra convenção e outros instrumentos.
Em relação aos movimentos sociais há também transformações. Observa-se uma vitalidade enorme daqueles movimentos que dez, 15 anos antes estavam se formando enquanto outros grupos entraram em declínio, como o Fórum de ONGs, o Grupo de Trabalho da Amazônia.
Anos 2010 em diante: reacionarismo e retrocesso
Nesse período ocorre uma reação aos avanços até então alcançados(movimento reacionário), com o objetivo de frear e retirar conquistas. Esse retrocesso é visto como uma reação direta de setores que lucram com terras, diante do fato de que milhões de hectares de terras públicas haviam sido destinados como terras indígenas ou reservas extrativistas (RESEX), tirando-os do mercado.
Em paralelo, acontecem mudanças políticas no mundo e mais especificamente no Brasil, com o fortalecimento de uma agenda conservadora que busca excluir da agenda política nacional os avanços ocorridos em relação à política ambiental e à política de reconhecimento dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Neste contexto, o país sobre a presidência de Jair Bolsonaro (2019-2022) promoveu a desestruturação da política ambiental e de seus instrumentos financeiros. Particularmente no que se refere à Amazônia, governos estaduais passam a buscar preencher esse espaço. O Fundo Amazônia, com as mudanças no governo federal, deixa de ser o depositário das principais doações internacionais, abrindo espaço para que os estados criem e ofereçam outros instrumentos financeiros para a internalização de recursos.
Henri Acselrad designa esse novo momento como o do liberal-autoritarismo, quando acontece simultaneamente a desmontagem da agenda de direitos com vistas a favorecer o “grande negócio privado” e “estruturas não-democráticas subjacentes às instituições formais da democracia”. Este contexto influencia diretamente a dinâmica e o papel da cooperação internacional e do financiamento a essas agendas e políticas.
Contexto Atual: a realização da COP30 no Brasil
Houve mudança expressiva na política ambiental com a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro, em 2022, e o terceiro mandato de Lula na presidência do Brasil (2023-2026). A significativa nomeação de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, abriu caminho para uma reconstrução da política ambiental, em especial com avanços no controle do desmatamento. Houve também progressos ao se colocar meio ambiente e clima nas atribuições de diferentes órgãos.Outro marco importante foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas, com Sonia Guajajara, e a nomeação de Joenia Wapichana para a presidência da Funai, agora Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Esse conjunto de transformações institucionais conferiu aos povos indígenas um grau de protagonismo inédito, com efeitos diretos na articulação entre direitos territoriais, proteção florestal e agenda climática Porém o governo Lula segue com contradições na energia, com ações que priorizam a intensificação da exploração de combustíveis fósseis.
Com relação às comunidades tradicionais, observa-se um novo protagonismo do movimento indígena e de outros povos e populações. Esses movimentos não buscam apenas o reconhecimento com tutela, mas sim soberania e autonomia sobre seus territórios. Eles se apresentam como detentores de direitos e com ativos ambientais, por exemplo, o controle sobre 158 milhões de hectares da Amazônia brasileira). Estes movimentos são ancorados nas tradições, mas apontam para o futuro, sendo também reforçados pela política de cotas que gerou uma nova geração de intelectuais indígenas e quilombolas.
Em julho de 2025, foi realizada a Pré-COP dos Povos e Comunidades Tradicionais, em Brasília (DF). Foram entregues duas importantes cartas resultantes do evento: uma endereçada ao presidente Lula, entregue aos ministros presentes, e outra à Presidência da COP30, recebida pelo representante oficial da conferência.
As cartas reúnem as principais demandas dos povos e comunidades tradicionais do Brasil por justiça climática, e reafirmam que não há justiça ambiental sem justiça social e sem a proteção dos territórios tradicionais. Os documentos denunciam a exclusão histórica desses povos nos espaços de decisão e exigem participação efetiva na construção das políticas climáticas, especialmente nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que o Brasil apresentará na COP30, em Belém do Pará.
Principais reivindicações:
- Titulação e regularização fundiária dos territórios tradicionais, com metas incluídas nas NDCs;
- Participação direta nas negociações da COP30, com credenciais asseguradas e escuta qualificada;
- Financiamento climático direto e desburocratizado, com pelo menos 40% dos recursos destinados a organizações dos próprios povos;
- Proteção das lideranças e defensoras/es de direitos humanos e ambientais, com enfrentamento do racismo ambiental e das violências estruturais;
- Reconhecimento da sociobiodiversidade como eixo das políticas públicas, fortalecendo modos de vida tradicionais, juventudes e economias sustentáveis;
- Transição energética justa, respeitando a governança comunitária e garantindo o direito ao veto a projetos que impactam negativamente os territórios.
A elaboração de NDCs próprias reflete o protagonismo inédito de povos indígenas e comunidades tradicionais nesta COP30. Pela primeira vez, organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) apresentam suas contribuições, afirmando que, como guardiões de territórios essenciais para o enfrentamento das mudanças climáticas, também devem participar da definição de estratégias e compromissos. Ainda está em discussão como essas contribuições serão consideradas e incorporadas às NDCs dos governos, mas trata-se, sem dúvida, de uma inovação histórica.
A pressão desses movimentos também fortalece a demanda por financiamento direto, impulsionando a reedição do compromisso internacional anunciado pela primeira vez em Glasgow, em 2021, que destinara US$ 1,7 bilhão para povos indígenas e comunidades locais. Agora, durante a COP30, o compromisso é renovado e ampliado para US$ 1,8 bilhão. No âmbito doméstico, o governo brasileiro anuncia a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que reservará 20% de seus recursos para povos indígenas e comunidades tradicionais – resultado direto da atuação desses movimentos e do Ministério dos Povos Indígenas.
Colaboram com esse texto Magali Cunha e Lucas Bártolo, ambos pesquisadores do ISER.
Como citar
VIANNA, Aurélio. "Da ECO 92 à COP30: direitos territoriais e mudanças climáticas". Religião e Poder, 17 nov. 2025. Disponível em: . Acesso em: .
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
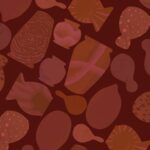
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil
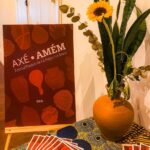
ISER lança livro sobre formação para pessoas negras baseada no diálogo inter-religioso
Conteúdos relacionados

O carnaval como pauta de disputa política do conservadorismo cristão

Para além da indiferença e do negacionismo: pentecostais na COP30 e a questão ambiental no Brasil
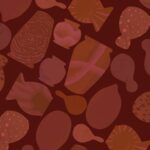
Axé-Amém – Encruzilhadas de Fé Negra no Brasil